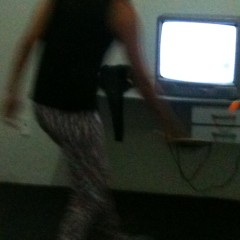mudança do privado DO CINEMA EXPERIMENTAL À INTERNET
O cinema experimental documentou a vida de uma pessoa, de um grupo. A erupção do vídeo aumentou esta produção pessoal, com a democratização do acesso aos instrumentos de filmagem e a multiplicação de canais de televisão (livres, públicas…) para mostrar os trabalhos. A Internet vai ampliar este acréscimo na difusão, e ao mesmo tempo refletir a transformação de noções do íntimo e do privado. Da representação de si à devoração ou da intermitência ao fluxo. No cinema experimental, gênero com pouca importância até pouco tempo, a questão da representação de si foi essencial, ela tornou possível o desenvolvimento de novas formas de narrativas que atravessaram os gêneros e muitas vezes comprometeram a linearidade do cinema clássico. O mesmo se aplica com o vídeo, que tornou possível ao mesmo tempo uma extensão e uma reorganização destas questões, através da sua contribuição a uma arqueologia do cotidiano. As questões do tema da temporalidade começaram então a ter um papel predominante, preponderante, nessas transformações e alterações quanto à representação de si. Eu gostaria de indicar alguns momentos nesta transfiguração. Esses momentos não são necessária e historicamente fundadores dessa mutação, eles a indicam, a acompanham, a transformam, pois sempre será possível achar anterioridades. Mas eu não busco estabelecer, fundar, uma origem. Isso não tem muito interesse. É outra coisa que me motiva. Los Angeles anos 40 Maya Deren: Meshes of the Afternoon, Keneth anger Fireworks (1947) Nova Iorque anos 60 e 70 , São Francisco Stan Brakhage: Window Water Baby Moving (1959) Carolee Schneeman: Fuses (1964/67) Jonas Mekas : Lost Lost Lost (1976) e Reminiscence of a Journey to Lithuania Sherry Milner & Ernest Larsen: Disaster (1976) É curiosa a ironia de que estão tão acostumados a assistir filmagem editada, que a filmagem sem edições parece algum tipo truque sujo – pegando as pessoas quando baixam a guarda, espiando-as. O que Sullivan chama de “the pravda of the atter”, na verdade é o contrário. “Quando um grande evento esportivo é interrompido por cinco minutos durante os comerciais de cerveja, você sabe que os ideais originais por trás do evento foram jogados pela janela do sexto andar”, ele diz. “A mídia de agora mais confunde a população, do que os eclarece, por estarmos sendo alimentados de coisas que são manipuladas e estamos sendo manipulados por eles, para sermos bons consumidores.” É por isso que ele deixa a câmera rodando antes, durante e depois do espetáculo. Afinal, a vida não vem com botão “liga-desliga”, seleção de canais ou intervalos – está acontecendo até o fim. Diversos lugares, mais tarde, agora ? Nelson Sullivan: A walk to the Pier, The Last Day (1989)...
o expanded cinema de VALIE EXPORT
A posição de Valie EXPORT em relação ao cinema experimental e às artes plásticas é singular. Desde o início, ela escolheu trabalhar com cinema, mas não com qualquer tipo de cinema. Um cinema que ela chama de Expanded Cinema (cinema expandido). Conservaremos o nome inglês, pois se trata aí de uma compreensão do cinema, mais próxima da dos artistas plásticos dos anos 90; e radicalmente diferente da do cinema expandido dos cineastas experimentais do fim dos anos 60 e 70. Diferentemente da produção americana, dominada desde o fim dos anos 60 pelo cinema estrutural, mas também diferentemente da escola materialista europeia, encarnada pelo cinema britânico e alemão do início dos anos 70, Valie EXPORT privilegia mais o conteúdo do que a forma. Ela não tem uma dinâmica essencialista em relação ao cinema. Como ela mesma lembra, em uma entrevista de 1995: “Nunca fui ligada a uma interrogação puramente formal do material fílmico, mas sempre me preocupei com o conteúdo da imagem, isso sempre foi importante para mim” (1) Valie EXPORT conhece os trabalhos de Peter Kubelka, e os dos acionistas vienenses, tanto os filmes de Otto Mülh, de Gunther Brus quanto os realizados por Kurt Kren. Peter Kubelka interroga o cinema a partir de seu próprio material. Trata-se de um cinema formal, um cinema materialista que manifesta o suporte a partir de seu funcionamento segundo seus elementos constituintes. Ele trabalha por redução visando ao universalismo, prefigura o cinema estrutural em alguns anos. Define esse cinema como métrico. Essa crença no universalismo será invalidada por Valie EXPORT e pela maioria das artistas mulheres dos anos 60. A matéria-prima dos acionistas é o corpo em todas as suas expressões. Trata-se de uma insubordinação caracterizada que visa perturbar uma sociedade voltada para si mesma, fechada em um conservadorismo pós-fascista. Essas ações usavam e abusavam dos corpos. Utilizavam a mulher, a representavam, apesar de seu radicalismo reivindicado, como qualquer outro grupo, ou seja, ela era um objeto cujo único crédito era o de ser um dos elementos da performance, triturado pela instância dominante: o homem. Vemos como a prática de Valie EXPORT se singulariza em relação àqueles artistas. “Critico o papel das mulheres nas ações materiais realizadas por artistas masculinos (Como feminista, não me interesso pelos papéis dos homens).” Em suas performances, a ação “visa obter a união do ator e do material, da percepção e da ação, do sujeito e do objeto, o acionismo feminista procura transformar o objeto da história natural do homem, o material ‘mulher’, subjugado e mantido na escravidão pelo criador masculino, numa atriz e criadora independentes, ela é sujeito de sua própria história. Pois, sem a capacidade de...